Ser professor na era da Geração Z é, para muitos, um exercício de equilíbrio instável entre a tentação de ser aceito e a necessidade de ser referência. A lógica que rege o universo dos nascidos entre meados dos anos 1990 e o início da década de 2010 é veloz, emocionalmente hiperexposta, baseada em validações instantâneas e em pertencimentos digitais que duram o tempo de um stories. E nesse cenário, educadores jovens — ou que se identificam profundamente com os códigos culturais dessa geração — correm o risco de tropeçar justamente na tentativa de se tornarem “iguais”, “descolados”, “um deles”. Um erro bem-intencionado, mas perigoso.
A primeira armadilha, talvez a mais sutil, é a do espelhamento. Professores da geração Z cresceram imersos no mesmo caldo cultural de seus alunos: séries da Netflix, memes do TikTok, músicas em looping no Spotify, uma ansiedade latente por likes e a expectativa de serem compreendidos no imediato. Isso não é um problema em si. O risco está em confundir afinidade geracional com simetria de papéis. Um professor não precisa — e não deve — se desfazer de sua autoridade para conquistar proximidade. Autoridade aqui não no sentido autoritário, mas como símbolo de alguém que está ali para conduzir, provocar, intervir pedagogicamente, mesmo quando a turma resiste. O educador não é um igual, e assumir esse lugar exige maturidade.
Outro ponto delicado é a pressão por performar um “engajamento” constante. Parte da cultura digital da Geração Z é a crença de que tudo precisa ser visível, tudo deve gerar reação, tudo precisa ter um quê de espetáculo. Há professores que se veem compelidos a transformar cada aula em um show, cada atividade em uma experiência instagramável, cada comentário em uma tirada espirituosa. Acontece que ensino é feito também de silêncios, de insistências, de processos que não cabem em vídeo de 15 segundos. A aula nem sempre será divertida — e tudo bem. O que ela precisa ser é significativa. E significância não se mede por palmas ou emojis.
Além disso, há a questão do autocentramento, uma marca dessa geração. A busca por afirmação pessoal, muitas vezes justificada como “autenticidade”, pode levar educadores a colocarem o próprio ego no centro da prática docente. O foco muda: da aprendizagem do aluno para o desempenho do professor. A aula deixa de ser espaço de construção coletiva e se torna palco para performance individual. Não raro, vemos discursos pedagógicos travestidos de vaidade, em que o “eu” do educador brilha mais que a trajetória do aluno. É preciso resistir a isso.
A maturidade pedagógica — essa que independe de idade cronológica — exige que o professor compreenda que sua função é, antes de tudo, servir à formação do outro. É não se desesperar diante do tédio eventual da turma, é não colapsar com a crítica de um adolescente frustrado, é não confundir o carinho do aluno com validação pessoal. É manter-se firme, sem ser rígido. É ter a coragem de ensinar o que eles ainda não sabem, e não apenas repetir o que eles já gostam de ouvir.
Claro que isso não significa rejeitar a cultura juvenil ou ignorar as transformações do tempo. Pelo contrário: um bom educador é atento ao mundo, fala a língua dos seus alunos, mas não se prende a ela. Sabe quando traduzir conceitos com memes e quando exigir atenção sem distrações. Sabe rir com os alunos, mas também os confronta com seriedade. Sabe ser jovem, mas sem abrir mão de ser adulto.
No fundo, o que está em jogo é a identidade docente. Professores da geração Z — e também os que se deixaram seduzir pelo ritmo apressado dessa era — precisam decidir se querem ser influencers ou formadores. Podem até ser ambos, desde que a influência não esvazie o conteúdo, desde que o carisma não substitua a competência. Porque, no final do dia, o que os alunos mais precisam — mesmo que não confessem — não é de um amigo virtual, mas de um educador real. Alguém que não caia na tentação de ser um deles, justamente para poder ser, de fato, por eles.

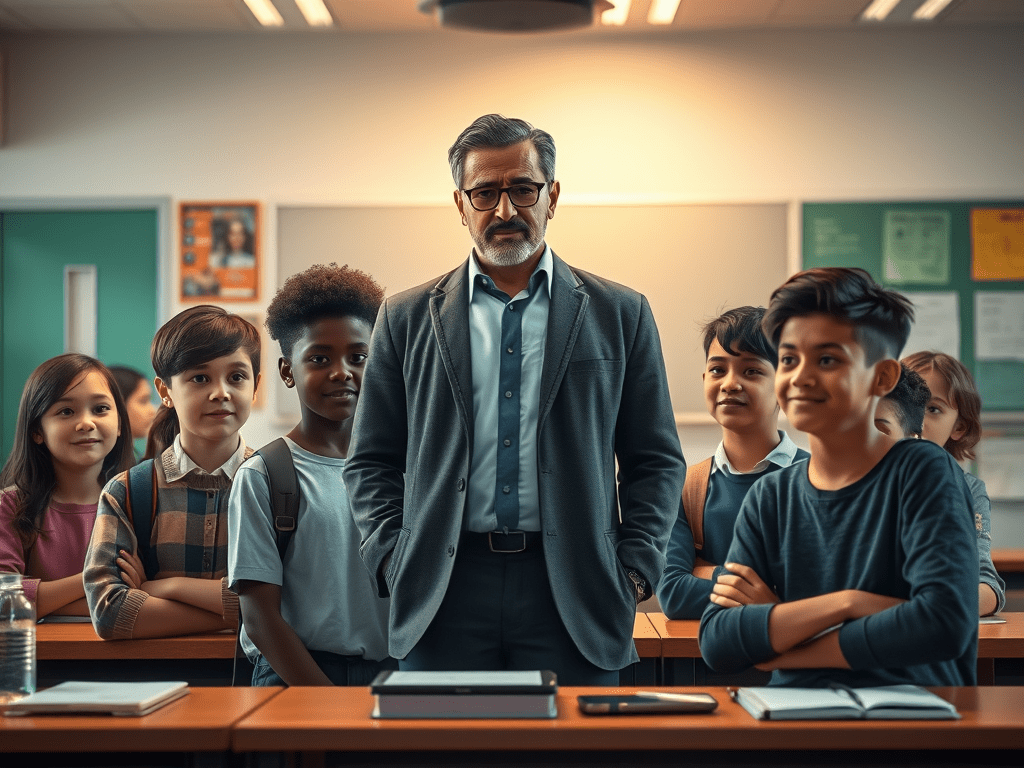




Deixe um comentário